Entrevista – Judith Revel

Judith Revel, professora de filosofia contemporânea na Universidade de Paris 1 Panthéon Sorbonne. É especialista em filosofia francesa e italiana da segunda metade do seculo vinte, com um interesse particular no pensamento de Michel Foucault e de Maurice Merlaux-Ponty. Dedicou várias obras a Michel Foucault, incluindo Michel Foucault, expériences de la pensée (2005), Foucault, une pensée du discontinu(2010) e, mais recentemente, Foucault avec Merleau-Ponty. Ontologie politique, présentisme et histoire(2015). Encarregou-se da edição critica dos textos inéditos de Foucault Langage, folie, littérature (Vrin, 2019),
Ela estará em Lisboa nos dias 2 e 3 de dezembro de 2024 para dois eventos importantes. No dia 2 de dezembro, participará no colóquio intitulado Michel Foucault em Portugal – Nos 40 anos da sua morte, que terá lugar na Biblioteca Nacional de Portugal. No dia seguinte, a 3 de dezembro, estará na Nouvelle Librairie française, onde dialogará com o musicólogo português Manuel Deniz Silva sobre o pensamento de Foucault.
Guillaume Boccara, adido de cooperação científica e universitária do Instituto Francês de Portugal, entrevistou Judith Revel.
Michel Foucault marcou o pensamento contemporâneo durante a sua vida, mas também, e talvez ainda mais, desde a sua morte, há quarenta anos. Ele influenciou as nossas maneiras de pensar sobre o poder, o saber, a verdade, o sujeito, a sexualidade, a loucura, a língua, e as divisões sociais e conceptuais que nos pareciam as mais naturais ou evidentes. Ele obrigou-nos a questionar a forma como colocamos os problemas e como constituímos as coisas como problema, assim como a interrogar-nos sobre a própria operação de problematização: a sua natureza, a sua matéria, o seu objeto. Assim, há pelo menos 70 anos que Foucault está presente nas nossas formas de pensar os sistemas de pensamento, o discurso e o exercício do poder. Viu uma evolução na apropriação e compreensão do seu pensamento ao longo de todos estes anos? Será que o compreendemos melhor hoje, devido à quantidade de textos (conferências, cursos, notas, cartas, intervenções diversas, etc.) que emergiram e foram publicados desde a sua morte?
Judith Revel: Não sei se podemos dizer que o compreendemos melhor. É evidente que o corpus se expandiu consideravelmente, e por isso compreendemo-lo de forma mais detalhada. Muitas vezes insisti na estratificação das gerações de investigadores, induzida pela alteração do corpus. Os colaboradores e amigos de Foucault, a “primeira” geração, da qual eu não faço parte, trabalharam essencialmente a partir dos livros. O pensamento de Foucault era isso – e geralmente, entre os livros, a escolha do ponto de entrada implicava tanto um tipo de leitura como uma “identificação” muito variável de Foucault. O Foucault dos leitores de História da Loucura não era necessariamente o mesmo Foucault dos leitores de A Arqueologia do Saber. Os efeitos da leitura induziram efeitos de identificação: Foucault mais ou menos estruturalista, mais ou menos associado à análise do discurso, mais ou menos historiador, mais ou menos político… A publicação de Ditos e Escritos, em 1994 (em França), mudou esse cenário. A minha “geração” baseou amplamente a sua leitura de Foucault nestas quatro mil páginas, pois elas permitiam reconsiderar os livros à luz do que ofereciam. E depois, houve um terceiro alargamento fundamental do corpus: a publicação dos cursos no Collège de France, que trouxe à tona objetos que já conhecíamos, mas cuja consistência absolutamente fundamental foi revelada com os cursos. Exemplos: a governamentalidade, a biopolítica, a questão da subjetivação, a questão da verdade e, naturalmente, toda a reflexão ético-política dos últimos anos. Este foi o terreno privilegiado para toda uma geração de jovens investigadores, que desde então se tornaram colegas. Finalmente, em 2013, Daniel Defert, companheiro de Foucault, cedeu à Biblioteca Nacional de França trinta e oito mil páginas inéditas, o equivalente a cento e dez caixas de arquivos: dossiês de trabalho, notas de leitura, rascunhos, muitos inéditos, cursos, manuscritos, um diário intelectual, cartas… E o empreendimento de publicação dos inéditos ganhou novo fôlego. A nossa compreensão do pensamento foucaultiano ampliou-se consideravelmente, enriquecendo-se e complexificando-se – e ainda temos muito caminho pela frente!
Qual é o lugar de Foucault hoje no campo, não só filosófico, mas do pensamento em geral? Ele ainda é central e a sua influência ainda é importante fora da França? Porque, nas últimas décadas, ele entrou no que poderíamos chamar de nosso “património filosófico”, mas também foi muito criticado, violentamente até, por ser, na sequência de Nietzsche, uma espécie de inimigo irredutível da verdade, o pai de um relativismo total…
Judith Revel: Diria que Foucault ocupa um lugar paradoxal. Muitos estudantes interessam-se por Foucault. E ele esteve no programa da agregação em França há alguns anos, entrou na coleção La Pléiade… De certo modo, podemos dizer que tudo está bem. A questão de saber se essa “entronização” académica lhe agradaria é outra coisa… Em qualquer caso, as publicações de inéditos alimentam constantemente a investigação, e a “cenário” foucaultiana internacional está em boa forma, porque é vibrante. Contudo, em França, houve talvez um certo efeito de saturação, que coincidiu com a reaparição de argumentos muito antigos que julgávamos dissipados pelos avanços da investigação “informada”: Foucault relativista, Foucault ameaçando a verdade, Foucault historiador mas não filósofo (ou o contrário), Foucault neoliberal, individualista, fenómeno de moda, produto “americano”, imoral ou amoral, niilista, cúmplice da teocracia iraniana, etc. Até mesmo coisas grotescas – recentemente ouvimos falar de um Foucault pedófilo, o que diz muito sobre os fantasmas movidos por rancores e ciúmes medíocres. Tudo isso, claro, não faz sentido. Preferíamos que as pessoas lessem e argumentassem (felizmente, alguns detratores são sérios e fazem isso), em vez de assistirmos a conversas de café. Isso é particularmente marcante neste quadragésimo aniversário da morte de Foucault, e é bastante desanimador, além de sintomático de um certo clima do pensamento francês atual.
Se sublinho isso, é também para dizer que o que considero paradoxalmente positivo é a ausência de uma escola foucaultiana. Não há ortodoxia, nem herdeiros; há pessoas que trabalham e procuram fazê-lo seriamente. Foucault dizia que o seu trabalho era uma espécie de caixa de ferramentas: algo que devia ser útil para outros. Creio que isso dá uma indicação preciosa: por um lado, temos o trabalho fundamental sobre os textos; por outro, os múltiplos usos possíveis do pensamento foucaultiano, mesmo numa época que já não é a sua – e o mundo de 2024 não é o de 1984! – ou sobre objetos que não foram os seus. Essa abertura é uma riqueza, pois previne querelas internas e faz a investigação respirar.
Foucault e o seu pensamento são, portanto, alvo de controvérsias numa época em que alguns falam de um suposto “wokismo”?
Judith Revel: Sim, muito claramente. Existe o efeito de saturação de que falei anteriormente; há também, mais recentemente, uma tensão relacionada às polémicas sobre um suposto “wokismo” académico: Foucault como produto puro da French Theory, o que, evidentemente, não faz qualquer sentido. Há leituras e usos norte-americanos de Foucault, alguns dos quais retornaram de forma importante para cá (pensemos na teoria de género, claro, ou nos Queer Studies, mas também, muito antes, na mobilização, de resto complexa, de Foucault pelos estudos pós-coloniais e subalternos, que estão longe de serem hagiográficos…). Tudo isso faz parte da receção de um certo tipo de pensamento francês nos departamentos de Cultural Studies dos Estados Unidos há meio século, depois nos de literatura comparada, e do “retorno” dessa receção aos nossos próprios questionamentos “europeus”. François Cusset analisou de forma notável essas dinâmicas no livro que dedicou à French Theory, e isso nada tem a ver com as invetivas atuais, que muitas vezes são grotescas.
Há, no entanto, uma questão mais séria, que já tinha sido formulada durante a vida de Foucault, mas que tende a reaparecer com força nos últimos anos: uma acusação muito forte de relativismo. Parece-me que isso está muito ligado ao nosso contexto atual: as preocupações suscitadas por um certo regime de “pós-verdade”, cujos efeitos se tornaram evidentes, por exemplo, durante a pandemia de Covid, com as elucubrações de Trump, ou ainda face a um certo ceticismo climático, e que parecem exigir, pelo contrário, da filosofia, uma definição clara do que é “A verdade”. Ora, “o que é verdade”, ou seja, aquilo que é atestado pelos factos, nunca foi posto em causa por Foucault. O que Foucault tenta fazer é algo completamente diferente: é a historicização da maneira como pensamos, a descrição e a análise do que ele chama de “sistemas de pensamento”. Não apenas porque, em épocas diferentes, se pensava de maneira diferente sobre o mesmo objeto – por exemplo, a loucura, ou a sexualidade, ou o “eu”, ou precisamente a verdade… –, o que efetivamente nos condenaria ao relativismo: afinal, como saber, então, quem tem razão? Mas porque fazer uma história dos sistemas de pensamento é algo totalmente diferente: é fazer uma história da maneira como não apenas objetos de pensamento, representações, conceitos, emergem num momento específico da história, mas como tipos de questionamento, regimes de interrogação, o que Foucault chama de problematizações, são dirigidos a esses mesmos objetos. Um exemplo simples disso: a partir de que momento a sexualidade se tornou uma questão, ao mesmo tempo para identificar o valor social dos comportamentos de um sujeito em geral, ou seja, a sua conformidade a uma norma, e (este é um ponto ainda mais agudo) para dizer a verdade sobre o próprio sujeito?
Poderia falar-nos um pouco mais sobre esta questão da conceção da verdade? É, de facto, um tema que reaparece constantemente numa época de fake news e de “bullshit”, como diria o filósofo Frankfurt.
Judith Revel: É um caso muito particular. Acabámos por aceitar que as análises de Foucault historicizam as representações da loucura e dos loucos, ou seja, também, imediatamente, os discursos de saber, as práticas e as instituições que, ao longo do tempo, marcaram a transformação das problematizações a que estas representações da loucura e dos loucos deram origem. Não existiam “a loucura” ou “os loucos”, mas sim a construção histórica diferenciada de objetos de discurso e práticas absolutamente distintos.
Poderíamos dizer o mesmo da figura do indivíduo que surge com o pensamento político moderno. É evidente que, desde sempre (e esperemos que por muito tempo!), existem indivíduos de carne e osso: não é isso que está em questão. Mas a maneira moderna de pensar o indivíduo, constituindo-o como objeto, submetendo-o a um regime de problematização baseado no ideal de autonomia individual, ou, noutra perspetiva, na questão da imputabilidade moral e política que lhe era inerente, ou ainda na sua consciência, na sua interioridade, na sua psicologia – tudo isso é historicamente situado e emerge num momento específico. Descartes, Kant, Husserl, por exemplo, não são sobreponíveis. E, no entanto, diz Foucault, todos se situam no mesmo espaço epistemológico, num mesmo sistema de pensamento.
Agora, para os gregos, por exemplo, o “eu” – que está bem presente no pensamento clássico (basta lembrar a máxima no frontão do Templo de Delfos, gnôthi seauton, conhece-te a ti mesmo, ou o tema do cuidado de si, epiméleia heautou, que tanto fascinou Foucault) – não tem nada a ver com o ideal moderno de autonomia individual, com a psicologização da “interioridade” ou com a consciência. O “eu” grego é um “eu” de relação, mesmo na forma privada e íntima da relação consigo mesmo; além disso, é um “eu” que nunca é autossuficiente ou autorreferencial, mas sempre inserido numa economia muito mais ampla, que é a do cosmos. Nesse sentido, Foucault foi um bom leitor de Pierre Hadot! Tudo isso é relativamente conhecido…
E o que acontece, então, quando aplicamos o mesmo tratamento a este objeto filosófico tão particular que é a verdade? No primeiro curso no Collège de France, em 1970-71, a questão insistente que surge é: como fazer uma história da verdade sem um critério absoluto da verdade? Não existe A verdade, ou seja, uma definição unívoca e ahistórica da verdade. Existem divisões do verdadeiro e do falso historicamente determinadas, o que Foucault chama de jogos de verdade, e uma historicidade dos modos de acesso à verdade que construímos. O pensamento grego arcaico vê a ordália como um caminho privilegiado para a verdade; depois, isso muda para algo muito diferente: no pensamento grego clássico, o conhecimento torna-se o caminho de acesso à verdade. Não se trata de desqualificar a verdade, mas de traçar as construções de pensamento, as configurações epistemológicas e filosóficas distintas.
Ainda assim, não sou Descartes duvidando da sua própria mão no final da primeira das Meditações Metafísicas: estarei mesmo em frente a si em Lisboa dentro de alguns dias, a mesa do café onde desfrutaremos de um Porto será verdadeira – não é disso que se trata! O que interessa a Foucault é outra coisa: questões tão diferentes como, por exemplo: em que momento se começa a opor astrologia e astronomia como dois discursos qualitativamente diferentes? Em que momento se estabelece o regime de prova? Em que momento a confissão se torna central para o estabelecimento do que chamamos precisamente de verdade, e o que queremos dizer com esta palavra a partir de então? E por aí fora.
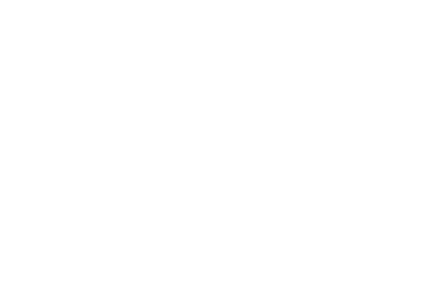
 Debate de ideias
Debate de ideias

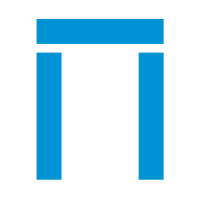 Arquitetura
Arquitetura Artes visuais
Artes visuais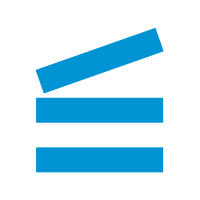 Cinema
Cinema Digital
Digital Espectáculo ao vivo
Espectáculo ao vivo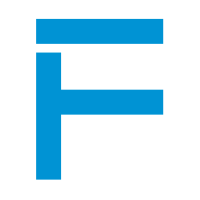 Francês
Francês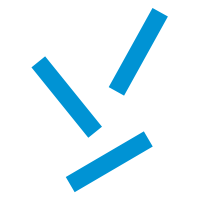 Institucional
Institucional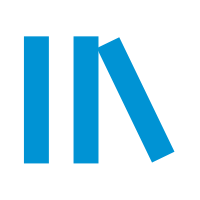 Livro
Livro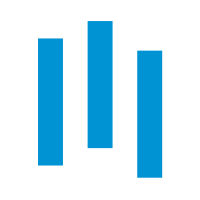 Música
Música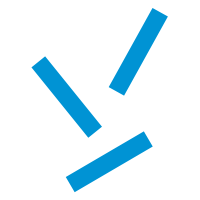 Não classificado
Não classificado